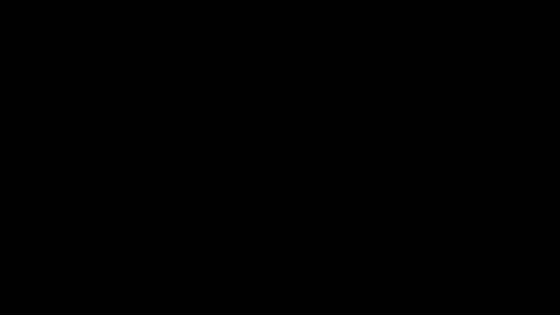terça-feira, dezembro 24, 2013
quinta-feira, dezembro 05, 2013
A ALMA DAS RUAS SÓ É INTEIRAMENTE SENSÍVEL A HORAS TARDIAS
(O título é uma citação da autoria de João do Rio)

Lembrar o Bairro Alto é, por tudo isto, dar vida às memórias, é reviver experiências que me ajudaram a crescer. Que, sobretudo, me ajudaram a ser. À noite, devaneei pelas suas estreitas ruas, tocando existências que, até ao momento, me ficavam bem distantes. Intuindo, com estranheza mas com agilizada liberdade, vivi esse tempo inventando sentidos, seduzido pela escuta arrebatada do sentir humano que na noite descobre o lado autêntico da sua alma. Com redobrado contentamento, descortinei que o Bairro Alto era uma realidade feita de raias incertas e animada por múltiplas e diferentes representações que, dando-lhe vida, prosseguiam a sua imaginária e sedutora identidade. Todavia, o seu denso espaço público não passou de uma vernácula superfície onde me ocupei a rabiscar textos, alguns bem necessários, de valiosa significação pessoal. As errâncias por caminhos não previstos alargaram-me o campo das apreensões e deram uma outra solidez aos valores que me são caros. Com a vantagem de ter sentido o latejar de vidas silenciadas, estes valores floresceram no chão íntimo da compreensão próxima do outro, do diferente e do socialmente diverso. Um tempo de andarilho que me proporcionou fazer do conflito entranhado uma poderosa razão para vencer, pela inteligência e pela sensibilidade, agitações impróprias provocadas por estranhas e insuportáveis ordens. Foi neste seu desafio dialético que a transparência da materialidade dos valores se insurgiu contra essa distante arte de bem persuadir a que se chama retórica, uma espécie, afinal, de oração que rarefaz a seu jeito a realidade – humana, social e cultural – que diz cuidar. Isso mesmo, um cuidar a seu jeito.
Imagem retirada DAQUI
domingo, novembro 24, 2013
NOVOS TEMPOS
À Guilhermina, ao João Fernandes e ao Mário Rui que comigo viajam nesta incursão ao mundo novo do remanso …

O presente não tem começo nem termo precisos malgrado a finitude de um agora que acontece. Mas o presente, no desalinho do horizonte do tempo imediato, permanece sempre inteiro, embora caprichoso. No seu gesto contínuo de (re)viver e de (re)significar, espera-se dele que faça do futuro um amável tempo presente. Com esperança mas sem resignadas esperas que nos tornem cativos do que vai acontecendo. Há sempre algo a desejar e a esperar da vida e do futuro. Ambicionando, nutre-se energia e desta extrai-se vitalidade. Na intimidade da esperança e dos desejos saberemos, com certeza, desvendar e reavivar estimulantes extensões das nossas vidas. Com a alegria de viver será tudo mais fácil. Não obstante a inurbanidade de muitos, o tempo futuro também nos pertence.
sexta-feira, novembro 08, 2013
A FORÇA E A AUTORIDADE DO NEGATIVO

Pulsando entre uma alicerçada teimosia em que se funda o dever de acossar a iníqua ordem estabelecida e a institucionalização transitória das ruturas que se alcançam, decido sempre pelas portas que se deixam abertas à possibilidade da incontornável permanência de progressivas e humanas transformações sociais. Ou melhor, a mudanças incessantes no sentido exato de um ambicionado porvir em que a maldade, no seu amplo mas profundo significado ecológico, se confronte com distintos e acumulados embaraços em se aparentar com o seu incómodo contrário – e, sobretudo, em viver à custa dele. Não correndo atrás de nenhum fantástico paraíso, é confiante nestas mudanças possíveis que me procuro situar, sem arrogâncias ou rendições, nas disputas continuadas por uma sociedade com mais dignidade, com mais justiça e com mais humanidade. No entanto, não deixando de radicalizar em nome dos princípios aqui inscritos, não deixo igualmente de reconhecer o lado frágil, o lado demasiado humano, das histórias que nos fazem ser – sem possibilidades significativas de fuga – consequência dos múltiplos e contraditórios vínculos com que vamos enlaçando a complexa e contraditória totalidade das nossas existências.
Para desmedir o nosso já censurável infortúnio, a globalização uniu globalmente o capital e desconjuntou, ou procura ainda desarticular mais e com absoluto descaro, as forças críticas que o combatem. O discurso político e ideológico dos nossos poderes paroquiais revela-se, neste campo e pela sua obviedade, um patético e obsceno modelo. A persistente tentativa de cisão e de debilitação do campo do trabalho constitui o eficaz método e o avivar abjeto do sentimento penoso de sobrevivência proporciona-lhe o seu sórdido ingrediente. Por mim, e no contexto deste breve escrito, não vou aqui argumentar se o marxismo, enquanto doutrina política, pode ou não ser adequado, ou mesmo conveniente, para esclarecer a sociedade futura. Interessa-me, isso sim, reafirmar a sua fecundidade na análise do (neo)capitalismo que nos sitia, favorecendo um olhar crítico e indagador quanto à significação da inteligibilidade da sua intrínseca e incontornável contradição. Contradição que, no essencial, assenta, por um lado, na necessidade expansiva e ativa do consumo, visando a intenção cobiçosa e mal disfarçada da busca infindável de mais-valias, sobre fabricando mercadorias, não por elas, mas pelos lucros colossais que assim se geram, enquanto simultaneamente se empenha, no seu absurdo e contraditório movimento, em reduzir o poder aquisitivo dos trabalhadores e deixar de atender a evidentes necessidades humanas e sociais, multiplicando-se em cínicas arengas e ardilosas alegações. No fundo, as crises não são, afinal, mais do que contínuos sobressaltos, uns bem mais dramáticos do que outros, nesta persistente e histórica luta entre o trabalho e o capital ou, melhor dizendo, entre os muitos que habitam o mundo do trabalho e os poucos que se acobertam por detrás do capital e das suas agências. Objetivamente, este combate não permite neutralidades. Então, corajosamente, incomodemos os nossos mesquinhos sossegos: de que lado nos havemos de colocar?
Imagem retirada DAQUI
quarta-feira, outubro 23, 2013
AS RESSONÂNCIAS QUE SE TEIMAM EM SILENCIAR
CONTEXTOS DE VIDA E A RELAÇÃO CONSIGO MESMO E COM OS OUTROS
Onde não há reciprocidade mora a dominação, o poder de um a vigiar pacientemente a desindividualização do outro. Tudo o que liga este a si mesmo é, subtil e silenciosamente, apresado e governado por aquele outro. Todavia, o retorno é sempre possível. Escutando o som dos rumores indizíveis, sopesando a sombria canseira da solidão e tomando a amargura como o nervo medular da insurgência. Audazmente, assim reinventando a vontade adormentada e, sem fraqueza, fazendo detonar a insistente patologia da triste submissão.
Obra de Ado Malagoli
Retirado DAQUI
domingo, outubro 20, 2013
QUE RELIGIÃO É ESTA QUE REZA O PAI-NOSSO E TEM UNS IRMÃOS À MESA E OUTROS À PORTA?

1. Que fizeste do teu irmão?
2. Que economia é essa que tem no centro o culto idolátrico do dinheiro e exclui os doentes, os idosos, os jovens e as crianças?
3. Que religião é esta que reza o Pai-Nosso e tem uns irmãos à mesa e outros à porta?
Frei Bento termina, desafiando naturalmente os cristãos – e não só – com uma oportuna sugestão em forma de uma penosa interrogativa, ou seja, perguntando: [e] se trocássemos umas ideias sobre isto?
Não aderindo aos useiros enredos abstratos de mera contraposição de teses ou de proscrições moralistas de ordem diversa vinculadas a sentenciosos e rotinados aforismos do “dever-ser”, as interpelações colocadas, pela sua natureza entretecida de subjetividades e objetividades várias e em domínios que, embora distintos, se atravessam (1. o valor do outro-eu, 2. o papel humano e social da economia política e 3. a genuinidade da doutrina social da Igreja), as ditas interpelações – dizia eu – apelam, do meu ponto de vista, a uma exigência dialética e crítica necessariamente rigorosa, complexa e continuada.
Nesta linha de pensamento, importa assim reconhecer a crítica como um processo que pressupõe uma compreensão efetiva do que se critica, da tese e do fundamento que a suporta e da materialidade manifesta sobre a qual o criticador, sadiamente inquieto, se possa – na sua empreitada e em consciência – aquietar. O questionamento múltiplo e angustiante formulado por Frei Bento leva-nos, através de um eloquente silêncio, à implícita condenação do egoico individualismo que despreza o outro, da brutal indiferença ante as intoleráveis e excessivas diferenças, da desapiedada incivilidade das desigualdades em crescendo e, como amálgama resultante de tudo isto, Frei Bento reprova, com toda a certeza e igual vigor, a aviltante e progressiva pobreza humana e social, hoje generalizada de um modo humilhante para todos ou quase todos nós. Por mim, as respostas necessárias são essencialmente de natureza político-económica, ideológica e educacional. Todavia, no campo das religiões, espero – ainda assim – que a Igreja, por si, não se fique pelo Pai-Nosso e, sobretudo, não se deixe conformar por uma vexante política assistencialista, abandonando uns irmãos à porta da compaixão enquanto outros se sentam (e bem) à mesa do digno e respeitável ganha-pão. E, não sendo eu crente, acredito porém sinceramente que Frei Bento não discordará de mim.
Nota – O título da postagem foi retirado do próprio artigo de opinião.
sábado, outubro 19, 2013
O CHORO MURCHO DAS CARPIDEIRAS

Num impudente quadro elogioso à atividade governativa, a capatazia da Comissão Europeia, ao carpir o suposto enfraquecimento ou mesmo o derrube do Governo por um eventual chumbo de certas medidas do Orçamento de Estado pelo Tribunal Constitucional e ao duvidar da imparcialidade deste órgão insinuando a presença nele de um possível e adverso ativismo político, torna claro o pano de fundo que a nível da União Europeia almofada em crescendo o modelo neoliberal e sublinha a importância histórica que Coelho, Portas e o irresoluto Seguro têm neste subliminar (mas lastimável) desdobramento. Ponto final.
Imagem retirada DAQUI
domingo, outubro 13, 2013
UMA SOCIEDADE PORNOGRÁFICA APODERADA POR INSIGNES E PÍFIOS BATOTEIROS
“Oh! Sejamos pornográficos (docemente pornográficos)”
Carlos Drummond de Andrade

Inscrevendo-se inevitavelmente num jogo de relações determinadas, necessárias e independentes da nossa vontade, a vida de cada um não escapa, neste quadro sempre regrado, a uma criação social de um viver intensamente decidido por uma singular e injusta base económica, a partir da qual se acertam, em ajustada moldura dialética, leis e políticas que açulam, e em simultâneo atraem, apetentes e desejáveis formas de consciência assim como receitam conformados e formatados comportamentos e, sem virtude, ordenam possibilidades e oportunidades. Pela sua extensão e desumana profundidade, a crise que hoje se vive constitui uma ocasião histórica para trabalhar uma mudança fundamental na dormente subjetividade social de modo a subverter a ordem institucional que qualifica a hegemónica organização desta atual e deprimente ordem (neo)capitalista. A adveniente consciencialização social e política necessária à mudança também passa por aqui, ou seja, passa por reconhecer que a compreensão da ação individual no seu quadro sistémico não pode deixar de valorizar a subjetividade como uma força de produção humana realmente capaz de insubmissão ao domínio do imediatismo instrumental deste batotar insistente do capital. Na escalada das obscenidades, um corpo nu grosseiramente exposto pode ser obsceno. Todavia, uma sociedade escaveirada na sua dignidade, despelada nos seus direitos e despida nos seus sonhos é tragicamente uma sociedade que entranha na mais infeliz das obscenidades a sua intrínseca pornografia.
Imagem retirada DAQUI
terça-feira, outubro 01, 2013
CAMA, COMIDA E ROUPA LAVADA EM TROCA DA LIBERDADE DE VIVER COM DIGNIDADE

Tendo em atenção a ideia manifesta na imagem de colocar os idosos na prisão e os criminosos em casas de repouso – pese embora a graça justiçosa encoberta na ironia adotada pela crueldade do contraste – convém rememorar que, desde os seus começos, a filosofia do constitucionalismo cuidou de sugerir a indissociabilidade do Estado de direito e dos direitos fundamentais, recusando recambiar estes à pura categoria filosófica de exortações retóricas. Ao longo dos tempos, as mais diversas experiências históricas de aviltamento e inumanidade, interpretadas à luz de outras sensibilidades e compreensões morais, conduziram à incitável indignação política e, através desta e do inseparável direito positivo que a acompanhou, à definição e reconhecimento de direitos percebidos como humanamente fundamentais.
No entanto, mais do que discorrer sobre direitos no acorrentamento propositivo deste sucinto texto, nomeadamente destacando o trágico ensinamento de que o móbil dos nobilíssimos direitos humanos já nos levou à angustiante distinção entre guerras justas e guerras injustas, opto por trazer à colação o inquieto, embora irrequieto e universalista, conceito de dignidade humana. Sendo certo que o respeito pela dignidade humana, devido de igual modo a todas as pessoas, ultrapassa as fronteiras de uma qualquer moral de apelo ao respeito por todos, para se inscrever no registo da cidadania e da implicação política como fonte inescapável de direitos iguais e exigíveis para todos, sem exceção.
Assim sendo, mesmo que de modo alegórico, considero que enlaçar comparativamente as condições de vida dos presidiários e dos idosos é ideologicamente incauto e sobretudo arriscado não só para os próprios idosos e presos como para todos aqueles que são/estão igualmente apresados por esta ordem capitalista irrefutável e crescentemente desigual, em especial quando se leva a sério o atual contexto de exacerbação intencional desse inferior sentimento nacional que é o da mesquinha e persistente invejazinha. Neste cenário, sugerir, através deste encolhido e falacioso enlace, a correção de iniquidades, depreciando a responsabilidade do Estado no reequilíbrio global e sistémico da balança da justiça, só pode ser uma de três coisas; ingenuidade, embustice ou jocosa brincadeira.
Sendo indignas e revoltantes as condições de vida de muitos e muitos dos nossos cidadãos idosos não serão, no entanto, ajustadas (!) as supostas condições outorgadas aos cidadãos presos? Ou seja, o que está mal não se resolve no exaurido campo social dos desfavorecidos, mutuando trocos e desigualdades. Em tempo de ressaca de eleições e de futuros que se sonham, não é despiciendo lembrar que o Estado, embora de direito, não foi necessariamente criado, como muitos pensam, para proteger os fracos contra os fortes. Os múltiplos poderes dominantes, sobretudo os económicos, usarão sempre o seu poder político para afeiçoar o Estado de direito de forma a dispor de um enquadramento dentro do qual possam continuar a explorar, a preservar e a cultivar desigualdades, alimentando o seu sonho, afinal o sonho do capital, hoje bem tangível: fazer dinheiro sem produzir.
Espero não ser mal interpretado mas a racionalidade de um qualquer discurso não pode deixar de estar sempre intimamente ligada à assunção de perspetivas que sustentam o que cada um pensa ser o modo proporcionado de se abordarem e de se partilharem determinados assuntos. Neste sentido, diria que a apresentação de argumentos cumpre a função de significar e justificar o que se pensa e o modo como se pensa por oposição a outros modos de pensar e não, meramente, o de suportar ou fundamentar proposições. Assim sendo, é sempre possível reconhecer que um argumento pode ser válido e bom, mas que a perspetiva que o suporta não é lá grande coisa. Sobretudo, quando se aventa (mesmo que por jocosidade) a troca de cama, comida e roupa lavada pela privação da liberdade de viver com dignidade…
quarta-feira, setembro 18, 2013
POBRE … MAS HONESTO

Ao noticiar naturalmente outros percursos e comportamentos de gente honrada como Dias Loureiro, Duarte Lima ou Oliveira e Costa (entre outros) não dirá, com toda a certeza, “RICOS … MAS DESONESTOS”. A RTP, na pessoa do responsável por este lúgubre padrão de destrinças, decide subliminar e desaforadamente as exceções. Ou seja, no universo dos pobres, alguns (poucos) são exceção. No mundo dos ricos tudo é gente honrada, havendo apenas dúvidas sobre uns tantos que os tribunais, em devido tempo, clarificarão.
Conclusão: na RTP há gente execrável, ideologicamente trapaceira e intelectualmente sem pingo de vergonha. O mínimo que se exige, em nome dos direitos e deveres de cidadania, é que o(s) responsável(eis) se retrate(m) no respeito por um serviço público que se quer íntegro e humanamente sadio.
terça-feira, setembro 10, 2013
A CANALHA ENVINAGROU-SE

Pelo que se diz, e Pacheco Pereira atesta, muitos engravatados da suposta elite supostamente bem-pensante não gostaram e bramiram a sua indisposição fazendo uso do apoplético insulto perante uma ideia que os aporrinhou dada a vernácula mas decidida linguagem – aliás, historicamente abandonada ao povo – que permite à “arraia-miúda”, pela genuinidade que a caracteriza e sempre que o antagonismo exige, frustrar – pela transparência – as disputas de sentido que tanto recreiam, em proveito sempre próprio, a discursividade da nata social, dominante e exploradora. Como bem nos alerta Bourdieu, a luta pelos direitos (de classes ou de grupos) não se consome nos limites dos bens materiais mas adentra-se braviamente no mundo dos bens simbólicos.
É neste contexto, bem atual e descoroçoado, que Vitor Malheiros[1] acusa o “sonho” neoliberal pela persistência desapiedada – que nos traz tão inquietos quanto despertos – …(da) desvalorização do trabalho, (d)as descidas dos salários, (d)os despedimentos, (d)o aumento de impostos e (d)o empobrecimento geral da sociedade [que] têm [no fundo e como indubitável objetivo] … reduzir os salários até ao ponto em que os trabalhadores se vejam reduzidos a uma quase escravidão. Ora quando o homem real – e não “um qualquer homem abstrato” – vive um verdadeiro problema de relação com a sua existência, num estado de progressiva injustiça e indignidade, é vital que ele se bata pelo seu lugar na sociedade. Juntamente com outros, e com toda a legitimidade, podem e devem sonhar com uma outra sociedade, renovando, porventura, a sua própria e triste história. Não me espanta pois que a canalha – supostamente elite, supostamente bem-educada e supostamente bem-pensante – perca o verniz e repudie histérica o jovem comunista que, pelos vistos, ainda não aprendeu a “linguagem de madeira”…
[1] Artigo de opinião intitulado “A escravatura como forma de combater o desemprego?” (Público, 10set2013)
domingo, julho 28, 2013
O JARGÃO POLÍTICO DO ESTADO NOVO NEOLIBERAL
Desperte a sua consciência crítica e traduza, com justeza e lisura, o jargão político do Estado Novo neoliberal (usado pelos mercados e seus comediantes), de acordo com Mário Vieira de Carvalho (MVC)[1]
| Se ouvir… | … traduza: |
| Reformar o Estado | Liquidar o Estado |
| Redimensionar as funções sociais do Estado, requalificar, emagrecer a administração pública | Extinguir o Estado social, despedir, privatizar |
| Competitividade, modernização da estrutura produtiva | Desemprego em massa, salários cada vez mais baixos, emigração em massa dos jovens mais qualificados |
| Os nossos credores, as nossas dívidas | Os especuladores responsáveis pela crise e que continuam a ganhar com ela, as dívidas da banca que os contribuintes pagaram e continuam a pagar (a juros altamente especulativos) |
| Salvar a Zona Euro | Submissão ao Diktat da Alemanha |
| Legitimidade democrática do Parlamento | Realizar um programa inconstitucional e não sufragado, acabar com a democracia e a sua tralha inútil |
| Goldman Sachs teve 1,5 mil milhões de euros no primeiro trimestre | Eis para que servem os cortes nos salários e pensões, na saúde, na educação e na segurança social, a subida colossal de impostos, as privatizações dos serviços públicos |
| O interesse nacional | O interesse dos mercados policiado pelo Estado, isto é, a privatização do interesse público |
MVC termina, prevenindo:
O estado socialista estatizava os interesses privados em nome do interesse público. O Estado Novo neoliberal privatiza o interesse público em nome dos interesses privados. Há quem chame a isso “salvação nacional”.
[1] Ler o interessante artigo A privatização do interesse público, de Mário Vieira de Carvalho (Jornal Público, 28JUL2013)
Imagem, embora modificada, foi retirada DAQUI
quinta-feira, julho 18, 2013
E SE NOS DÉSSEMOS AO “LUXO” DE PENSAR?

Num tempo de densas e desdobradas aparências, ressai o apelante e sedutor artifício das exterioridades que, piscando o olho à soberbia aparecente do opinioso, o faz formigar em infundados desencontros que apenas se aquietam no suposto êxito do obnubilado convencimento. O contingente deslizar de opiniões na superfície das realidades, mistura-se, enleante, no feitiço do entretimento desprezador das finalidades últimas da razão humana. Servindo-se de diatribes, tendencialmente antinómicas de uma outra, mas servil razão, proscreve-se aquele trabalho que agrega, no exercício dialético da crítica – daquele que se ocupa da pergunta e procura, com verdade, uma resposta – a continuada busca material do seu fundamento.
Esta é a minha opinião, uma expressão tradicional e definitiva que, ao fixar, sem mais conversa, o termo de um qualquer desacordo, decide por cissura e abandono, as dificuldades sentidas, porventura, como já insuportáveis. Nestas circunstâncias, o adjacente mas encolhido acho que, convertido numa espécie de crença, sabe a pouco, já que, apesar do disfarce da impulsiva assertividade, não deixa de exibir dúvidas que a exortada adesão à validade de um saber, mais não faz do que o reconhecer como insuficiente, ou de mal a pior, sobretudo como simulado. A distância que separa a representação subjetiva do opinável ao pensamento que busca, pela persistência, a sua consistência e validade epistemológica (ou mesmo ontológica), pelo que em si e para si conta, somente funda a incomodidade desesperante do que sabe ser a facticidade na sua nua e modesta imediatez.
O teórico literário e filósofo Yves Citton, na conferência Como Sair de um Futuro em Crise (Festival de Avignon), conforme noticia o jornal Público[1], à questão “se podemos viver para além da crise ou se é a crise que nos ajuda a viver”, responde:
A crise, que cada vez mais se esquece que não é só económica, mas cujo poder económico asfixia a reflexão sobre a crise social, de valores, filosófica e cultural, é um momento de reflexão. Como se reconhecêssemos que antes da “crise” vivíamos numa estabilidade aceitável, ou sustentável, e quiséssemos a ela regressar. Porquê – pergunta o filósofo. Porque não sabemos viver sem imaginação. Reivindiquemos, primeiro, o luxo de pensar.
Desta redarguição, coloco em relevo sintetizado o tópico sugerido para reflexão, o questionamento da suposta aceitabilidade da era ante crise e a urgência de pensar, apreciado como luxo pela ingénita, embora perversa, asfixia infundida pelo poder económico. Numa perspetiva materialista e dialética, que aqui adoto, diria que a centralidade económica capitalista sempre mereceu, e não apenas nestes tempos de inusitadas agruras, um trabalho ousado e valoroso, não só do ponto de vista crítico e analítico como instrumental.
Assim sendo, no plano crítico, impõe-se desarmar, esclarecendo, o conjunto de presunções em que se cimenta a prática e a catequização que se aprumam na materialização de objetivos sociais de sujeição. No domínio da análise, uma economia capitaneada pela produção de capital, deve ser pensada, não apenas nos seus mecanismos de dominação histórica como também na base material sobre a qual essa dominação se conforta, não descartando, desse crivo, o movimento dialético que a encaminha e lhe é intimamente intrínseco. Enquanto instrumento, importa teimosamente descontinuar a dinâmica sistémica como a economia capitalista organiza a produção do nosso viver, procurando compreender os alicerces do seu funcionamento de modo a poder nela intervir consequente e consistentemente, assumindo com clareza uma vontade pensante, fundamentada e de inequívoca rutura. Do meu ponto de vista, ou a democracia vale, revelando esta plasticidade, ou a existência de um descontentamento, que se vai alargando e aprofundando, pode levar o “luxo de pensar” à necessidade de transposições doutrinais que se traduzam numa séria apoquentação para a dominância material e ideológica dos interesses por demais instalados. Mas não tenhamos dúvidas; a democracia não vale mesmo sem essa apoquentação. Em particular, decorrente da ação dos que se sentem, em consciência, explorados e injustiçados.
[1] Público, 17 de Julho de 2013, artigo intitulado Pode a solução para a “crise” estar na imaginação, de Tiago Bartolomeu Costa.
Imagem retirada DAQUI
domingo, julho 07, 2013
MOTIVOS MENORES OU RASTILHOS ENORMES?

O cronista traz-nos à consideração as revoltas que começam por motivos menores e que, parecendo serem coisas pequenas, se mostram afinal rastilhos enormes. Na Turquia, um parque verde central e popular face a um centro comercial banalizador; no Brasil, tarifas de mobilidade urbana de um país imenso face a milionários estádios de futebol e outras derivas imobiliárias 'emergentes' e efémeras. Ao inverso do que se procura fazer crer, estes conflitos não são locais mas sim extraordinariamente globais, como adverte JS, rematando em jeito acusativo:
São conflitos entre oligarquias e democracias; entre vidas artificiais e vidas reais.
Trazer à colação esta incómoda realidade é, também, testemunhar a vericidade da colonização do mundo pelo capital, através da refinada difusão do poder nas malhas das nossas vidas, amoldando as gentes e governando as existências. É o domínio do bio poder, no exercício sorrateiro de controlo sobre os corpos, a sua circulação, formas e usos do espaço público. Denunciar e desmontar estas redes de poder (e os preceitos que as escudam) constitui um dever de cidadania e de cultura. Talvez, mais do que nunca, vamos tendo a consciência de sermos seres intrinsecamente espaciais, envolvidos de modo continuado na obra, nem sempre coletiva, de espaços, lugares, territórios, ambientes e habitats. Este fazer geografia estabelece-se com o corpo numa intrincada relação com as suas cercanias. As nossas ações e pensamentos moldam (ou participam) assim o (ou no) espaço que nos rodeia e dentro do qual inevitavelmente vivemos, menosprezando por vezes que esta espacialidade é sempre um produto da organização humana e da sua consequente estruturação ambiental ou contextual.
Neste quadro, e para terminar, como mensagem, aqui deixo o remate da REVOLUÇÃO URBANA[1] de João Seixas:
É assim vital não ser arrogante para com a cidade e os seus cidadãos. Agir ecológica e equitativamente, construindo os suportes para a materialização dos direitos urbanos, e assim [atuar] sobre as dimensões e os espaços mais pertinentes, como é o caso da mobilidade e da inclusão social; da escala da metrópole à escala de cada bairro. Em diversidade, em pluralidade, em convivência. A revolução urbana é inevitável. Temos tudo a ganhar se a compreendermos e acompanharmos. Aproximando a Polis da cidade; e vice-versa.
Imagem retirada DAQUI
domingo, junho 23, 2013
A TRATANTICE INVADIU A CASA DO LEME

A política já não se limita à cidade nem significa arte ou ciência ou sequer se restringe à esfera da atividade humana referente às coisas do Estado. Há muito que incorpora, com Marx, o sentido do conflito alargando-a à comunidade socialmente diferenciada. Mais fundo, Foucault inscreve a política no campo das relações sociais à escala do cotidiano e da proximidade, dando expressão a uma rede ilimitável de poder. Neste enredado entendimento ajuizador, a linguagem e os conceitos que suportam o movimento de significação não escapam aos preconceitos ideológicos que escoltam, com elevado grau de conformidade, a sua destinação encaminhada por sombrios preceitos epistemológicos. Januário Torgal Ferreira (JTF) quando diz que não fala de política mas que apenas invoca a doutrina social da Igreja confirma as íntimas perplexidades da linguagem. Não é por acaso que afirma perentoriamente:
Vejo que pessoas que hoje ocupam cargos no Governo são incapazes de dizer 'pobre'.
Entremeado de outros rótulos afins que se vão colando à embalagem política em geometria sempre variável, JTF procura assim espertar o “povo” para os discursos governativos e outros doutorados arbítrios que, enquanto ideológicas falas, não são nem cândidas, nem despiciendas. Têm por farsante tarefa a burla continuada sobre os incautos exauridos na substancialidade da sua cidadania, quer por desconhecimento, quer por cansaço ou descrença. No universo da segregação social, a dominante etiquetagem, na sua diversidade, busca, de modo arguto, o estatuto impróprio de categorias materialmente úteis à indagação e compreensão desvirtuadas das realidades. JTF tem razão: através da semântica política a responsabilidade esvoaça e os responsáveis acobertam-se. Sem problemas de consciência. A tratantice há muito que invadiu a casa do leme…
Imagem retirada DAQUI
O EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS
A ideia de tomar um dos Evangelhos como base para um filme empurrou para a sombra todas as outras ideias de trabalho que eu tinha em mente. (Pasolini)
O filme de Pasolini é um dos mais eficientes sobre temas religiosos a que eu já assisti, talvez por ter sido feito por um não fiel, que não prega, não glorifica, não enfatiza, não sentimentaliza, não romantiza a famosa história, mas se esforça ao máximo em apenas registrá-la. (Roger Ebert)
É geralmente tido como ironia que um dos filmes mais fiéis já feitos sobre a vida de Jesus Cristo – senão o mais fiel – seja obra de um comunista, o italiano Pier Paolo Pasolini. O Evangelho Segundo São Mateus (Il Vangelo Secondo Matteo, Itália, 1964), que saiu em DVD em cópia restaurada, é dedicado pelo diretor ao papa João XXIII e não tem nem uma única fala que não seja tirada tal e qual do texto do evangelista Mateus. (Isabela Boscov)
O Evangelho Segundo São Mateus (1964), obra-prima do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini é surpreendente até mesmo pelo modo como se iniciou.
E 1962, o papa João XXIII, sempre muito aberto ao diálogo, fez um convite aos artistas não católicos para que eles participassem de um encontro em Assis, cidade natal de São Francisco. Embora fosse reconhecidamente ateu, marxista e homossexual, o diretor Pasolini aceitou o convite do papa, indo para Assis. Ali, no quarto do hotel que lhe fora reservado, deparou-se com um exemplar dos Evangelhos que, segundo ele, leu do início ao fim. E, através de tal leitura, teve a ideia de escolher um deles como base para um filme.
O Evangelho Segundo São Mateus foi filmado, principalmente, no distrito italiano de Basilicata, em sua capital Matera. A região era pobre e bastante desolada à época. É narrado em branco e preto, embora já possa ser encontrado restaurado e digitalmente colorizado (as duas formas encontram-se no mesmo DVD). Essa obra magnífica recebeu três indicações para o Oscar. Ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Veneza e recebeu o prêmio OCIC (Office Catholique International du Cinéma), que o exibiu no interior da Catedral de Notre Dame, em Paris. Trata-se de uma produção franco-italiana.
O filme é de uma simplicidade comovente. É feito como se um documentarista acompanhasse Jesus, desde o nascimento até sua morte, tendo em mãos apenas uma máquina filmadora. Essa sensação, passada pelo cineasta ao espectador, é totalmente proposital. O elenco é composto por pessoas comuns. Nessa película, Pasolini abraça a linha do neorrealismo (Movimento que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Itália, que tinha como objetivo participar da realidade, inclusive, usando a gente do povo como atores, pois se tinha a ideia de que as pessoas comuns encarnavam melhor certos personagens.).
Para representar Cristo, o diretor Pasolini escolheu Enrique Irazoqui, um espanhol, estudante de economia, que nunca havia representado. Ele representa um Jesus magro, com os ombros recurvados, sobrancelhas pretas e fartas, cabelos curtos, pele morena, barba curta e, em nada lembra o Cristo visto em outros filmes. É representado como a maioria dos judeus da época em que viveu. Normalmente é doce no falar, como no Sermão da Montanha. Mas também se mostra enraivecido em certos momentos. Jesus sempre responde a uma pergunta com outra, ou com uma parábola, ou com ironia; bem ao estilo de São Mateus, considerado o mais realista dos quatro evangelistas que estão na Bíblia.
Camponeses locais, lojistas, operários de fábrica, motoristas de caminhão, entre outros, foram contratados para os demais papéis. Para interpretar Maria, na parte em que Jesus é crucificado, o diretor escolheu sua própria mãe. O anjo, que conta a José que Maria dará à luz o filho de Deus, é semelhante a uma camponesa e aparece em vários momentos do filme. Para a filmagem, Pasolini não usou roteiro. Limitou-se a seguir São Mateus em seus evangelhos, página por página. Só usou de síntese, quando foi extremamente necessário, para impedir que o filme fosse demasiadamente longo.
Os discípulos de Jesus são mostrados por Pasolini, como um grupo de jovens que possui consciência social e que aderem a uma causa revolucionária. E, ao usar cenários mínimos e enquadramentos simples, o diretor recria um retrato convincente da época em que se a passa a história da vida de Jesus. Sendo que a simplicidade na forma com que Pasolini conta e interpreta a história, viria a mudar o conceito de épico bíblico.
Em O Evangelho Segundo São Mateus, vemos um Jesus que se posta radicalmente contra o materialismo da sociedade, que enaltece os ricos e os poderosos e menospreza os fracos e os pobres. O Cristo de Pasolini passa-nos a mensagem de que “sentia a nossa dor e nos amava”, mas que não amava “aqueles cujo reinado era na Terra”. Os escribas e os fariseus daquela época têm muito em comum com a maioria dos “cristãos” de nossos dias.
Existem pouquíssimos diálogos no filme. E muitos personagens, ao serem filmados em close-up (primeiro plano), lembram as pinturas religiosas da Idade Medieval. A trilha sonora é especial, incluindo missas de Bach, Mozart e gravações de blues.
Temos visto vários filmes sobre a vida e a morte de Cristo sob diferentes ângulos, o que nos mostra que não existe uma única versão sobre a história desta grande figura. Cada cineasta molda-o de acordo com suas ideias. Citando apenas dois exemplos: enquanto Mel Gibson deu enfoque ao sofrimento, por entender que esse era o fato principal da vida do Salvador, Pasolini já entendeu que sua essência encontrava-se nos seus ensinamentos, de modo que compreendê-los era muito mais importante.
O filme de Pasolini diz-nos que Jesus foi um radical e cujos ensinamentos, se levados a sério, contradizem os valores da maioria das sociedades humanas desde então. (Roger Ebert)
Autoria de LuDiasBH, in http://virusdaarte.net/filme-o-evangelho-segundo-sao-mateus/
segunda-feira, junho 17, 2013
O CONSENSO É UM COMEÇO, A CONVERGÊNCIA UM CAMINHO

Relembre-se, todavia, que o futuro foi privatizado porque se vendeu a ilusão de que tudo tem de ter um valor económico, tudo tem que ser - mercadoria. Para tal, liberalizou-se e desregulamentou-se avivando-se a crença na tese da privatização, da empresa e do investimento não-público, como raízes agregadas – e enquanto tais – vitais ao crescimento económico e, em resultado dessa crescença e por natural arrasto, essenciais ao desenvolvimento humano e social. Daqui até se começar a tentar vender a ideia de que é o capital financeiro – e não mais o trabalho humano – a principal fonte de riqueza decorreu apenas um curtíssimo passo a que um outro, de imediato, se acolitou: o do trabalho reduzido à categoria de mero custo com consequências nos salários, na sua troca pela inovação tecnológica e na deslocalização das empresas na busca calculista de redução de despesas através de baixas remunerações respaldadas numa entorpecida e adversa proteção social. Salta assim à vista que o capital não vê com bons olhos qualquer Estado que procura dar existência a um sistema político e social fundado em princípios, preceitos e instituições que tenham como desígnio a realização do bem comum.
Como parece hoje manifesto, a atual crise transcorre em muito destes devaneios e destas atrações destruidoras, revigoradas pela dinâmica viva de um capitalismo global desregulado que, recostado num mercado financeiro que habita o mundo sem regras que o limitem – suportado (como se sabe) por redes informáticas igualmente globais – tem como mina própria os efeitos rendosos de uma acumulação feita de uma lavra infindável de títulos múltiplos e mascarados, para além dos consagrados e chorudos empréstimos de capital. Neste enredo indomado, com uma regulação pública frouxa, quando não comparsa, materializada em respostas governativas lentas, tardias e incuriais, ao resgatar os bancos e as instituições financeiras, os Estados fizeram naufragar as finanças públicas num poço sem fundo a que ardilosamente qualificam de dívida pública.
O bem comum[1], como muito bem refere Riccardo Petrella[2], não é um dado mas um evolutivo conceito-mosaico que apresenta a solidariedade como base do progresso social e do funcionamento eficaz da economia de qualquer país. A mundialização da economia complexifica naturalmente o conceito. Sem dúvida. No entanto, como Petrella nos alerta, há muitos nós para desatar e, desde logo nos aconselha que a primeira coisa a fazer é deslegitimar a retórica dominante, as suas palavras-chave e os seus símbolos. Neste sentido, esclarece acrescentando que muito concretamente, é preciso deslegitimar o princípio da competitividade e afirmar que a prioridade não é a competitividade mas a solidariedade. É falso afirmar-se que a competitividade é um trunfo capaz de fazer crescer a solidariedade e a coesão social. É igualmente necessário “dizer não” aos princípios de liberalização, desregulamentação e privatização. Entre esta Santa-Trindade e o desenvolvimento do bem comum, há uma total incompatibilidade[3].
As esquerdas têm assim em mãos esta fundamental e premente tarefa, a de libertar o futuro e torná-lo um bem realmente comum – já acima o afirmei. Mas agora interrogo-me: serão as esquerdas capazes de construir, para além do consenso de partida, a convergência imprescindível ao compromisso político de corporizar - na ação - esta tarefa?
[1] Ricardo Petrella, in “O BEM COMUM – elogio da solidariedade (Campo das Letras), p. 42.
[2] Nasceu em Itália em 1941. Doutorado em Ciências Políticas e Sociais, foi diretor do Programa “Prospeção e Avaliação da Ciência e Tecnologia” na Comissão Europeia. Docente na Universidade Católica de Lovaina.
[3] Id., p. 117.
Imagem obtida AQUI
domingo, junho 16, 2013
sábado, junho 15, 2013
O VALOR DA VIDA COMO VIA PODEROSA DE ORGANIZAÇÃO HUMANA

sábado, junho 08, 2013
EM LUGAR DE SÉRIOS ARGUMENTOS UMA SÉRIE DE PATRANHAS

Assim sendo, o contraditório – necessário aqui à defesa da verdade no que respeita ao Estado, à sua sustentabilidade e funções sociais – representa por si, neste tempo político pardacento, uma convicta contestação cívica de dever inadiável. Lembra JPP, nesse mesmo artigo, que o que se passa na função pública é relevante para todos nós, como método, como sinal, e, infelizmente como imoralidade social, rompendo um contrato social que é suposto ser o tecido da nossa sociedade em democracia, em que existem diferenças e diferenciações aceitáveis e outras inaceitáveis. Sempre em nome da equidade, da justiça e do dinheiro dos contribuintes, este Governo com a sua hábil e permanente aptidão para se aproveitar das circunstâncias com um sentido obsceno de oportunismo, enrista-se no momento contra os trabalhadores da Administração Pública, cortando os seus salários e as suas reformas, situando-os assim como desvios agregados na categoria do inaceitável. No entanto, como nos diz JPP, em contrapartida nunca ninguém ouviu o Governo, em situação alguma, responder que “não havia dinheiro” para as PPP, nem para os contratos swap, nem para a banca. Dinheiro só escasseia, como se sabe, para os trabalhadores e para os reformados.
Neste sentido, aqui vão apenas algumas notas que têm como propósito assinalar a razão de ser deste texto e granjear através delas o merecimento das críticas acusantes inscritas nos parágrafos precedentes.
1. De acordo com o Relatório do Orçamento de Estado para 2012 e 2013, poder-se-á constatar que o total da receita corrente (receitas fiscais, contribuições sociais e outras) cobre, claramente, o total das despesas com o pessoal e com as prestações sociais (Segurança Social, CGA e Saúde). Os excedentes mencionados não atraiçoam. Em 2010, estes foram de 8240 milhões de euros, em 2011 de 12226, em 2012 de 11813 e previstos para 2013 de 14601. Deste modo, confirma-se que é uma inverdade persistir na cassete gasta e enganosa de que as receitas do Estado não são as bastantes para pagar os devidos salários e pensões aos seus funcionários. Se o dinheiro não chega, importa conhecer quais as despesas do Estado que o fazem desaparecer. Não serão, entre outras, as dos credores, da Banca e do obscuro sorvedouro denotado pela marca BPN?
2. Uma outra trapaça é fazer crer, com uma inusitada constância, que a despesa pública com a saúde em Portugal é superior à dos países da União Europeia (EU). Tendo por base os dados divulgados pelo Eurostat podemos confirmar que assim não é. Tendo por referência o Produto Interno Bruto (PIB), Portugal consome 6,8% do seu PIB, enquanto as médias europeias se situam nos 7,3% (UE27) e 7,4% (UE17). Em euros por habitante, a diferença torna-se ainda mais esclarecedora. Portugal gasta 1097€ por habitante enquanto a UE em média gasta 1843€ (UE27) / 2094€ (UE17).
3. Passando à despesa com a proteção social, incluindo as pensões e todas as outras prestações sociais, o Governo, seus aderentes e prestativos comentadores, têm procurado incutir nos cidadãos que essa despesa em Portugal é superior à dos países da União Europeia. Comparando os números, igualmente divulgados pelo Eurostat, mais uma vez a patranha é confirmada. Em percentagem do PIB, Portugal tem despesas, neste domínio, que se cifram nos 18,1%, sendo estas, em termos médios, significativamente superiores na EU27 (19,6%) / EU17 (20,2%). Se considerarmos essas despesas por habitante, a percetibilidade torna-se bem mais evidente. Em Portugal, já em 2011 essa despesa por habitante era de 2910€ e na UE27 de 4932€ e na UE17 de 5716€. Os números são tão expressivos quanto a aleivosia ideológica dos farsantes.
4. Uma outra imagem, por demais publicada, que explora ardilosamente o conflito intergeracional, procura fazer passar a ideia de que as gerações mais velhas deixam aos mais novos pouco mais do que dívidas. Omite-se deliberadamente os ativos que foram financiados, não só por essas dívidas como pela riqueza entretanto criada, tais como os equipamentos públicos (das escolas aos hospitais), a expansão da escolaridade e a elevação do nível de educação e formação, os avanços tecnológicos obtidos e muitos outros aspetos essenciais ao desenvolvimento humano e social, fundamentais para o nível de vida das gerações futuras.
5. Permanecendo neste elencar de refutações, acrescente-se que a delação capciosa da generosidade do sistema da Caixa Geral de Aposentações (CGA) face ao sistema da Segurança Social tem como propósito, com base na arma política de instigação ao divisionismo anteriormente descrito, legitimar o confisco progressivo e generalizado dos rendimentos do trabalho que, na urgência desta propalada circunstância de erros, falhas e dificuldades, não podem deixar de vitimizar os que estão mais “à mão” – é a arma política de instigação ao divisionismo anteriormente descrita a ser utlizada sem pudor. Daí, e nesta fase mais avançada do sequestro do trabalho e dos seus rendimentos, sejam, como é fácil de perceber, os proventos dos desarmados trabalhadores e aposentados da Administração Pública aqueles que se tornam, neste contexto, objeto de uma mais fácil extorsão – é o roubo, não menos criminoso por ser “legal”, porventura até mais ilícito por isso mesmo.
6. Na qualidade de professor aposentado, decerto um privilegiado nesta onda de radicalismo neoliberal, apenas dois esclarecimentos sobre esta pretensa generosidade comparativa do sistema da CGA face ao sistema da Segurança Social:
§ Em primeiro lugar, convém dizer que tratar os dois sistemas como realidades homogéneas, sem história, mutações e aproximações, é afetar à partida uma análise objetiva e necessária. A talhe de foice, como dado pouco divulgado, lembre-se que até 1993, na Segurança Social, um dia de desconto bastava para se considerar um ano completo e que, depois dessa data, são necessários apenas 120 dias, ao contrário do que acontece na CGA onde sempre foram (e são) considerados, para esse efeito, somente anos totais de desconto.
§ Por outro lado, ao invés do que se afirma, há razões objetivas para as pensões na Administração Pública serem mais elevadas do que na Segurança Social. Primeiro, porque os trabalhadores da Função Pública descontam para a CGA, em média, mais 6 anos do que no sector privado. Em segundo, na Função Pública os salários são mais elevados tendo em atenção o diferencial médio de escolaridade – 56% dos trabalhadores da Administração Central têm o ensino superior, enquanto essa percentagem diminui no sector privado para os 13%. Deste modo, para além das pensões refletirem naturalmente esses salários, acrescente-se que na Função Pública não existe fuga contributiva como acontece, com frequência, no sector privado por injunção e interesse das empresas.
Acabo como Pacheco Pereira começou:
Se há um princípio cívico de moralidade, o que está a acontecer aos funcionários públicos deveria fazer soar todos os sinais de alarme.
[1] Jornal PÚBLICO, Edição Lisboa, Sábado (08.JUN.2013).
NOTA: Os dados referidos e trabalhados neste texto foram obtidos no site de EUGÉNIO ROSA
quarta-feira, maio 29, 2013
A COADOÇÃO – UM EMBARAÇO QUE DISPENSA BANDEIRAS

Apesar desta declaração de empatia, vamos todavia ao que me traz. Marinho Pinto considera – e reitera-o com um arrebatamento obstinado – um desrespeito e sobretudo uma atormentação para as crianças, a possibilidade de os homossexuais poderem vir a coadotar os filhos adotivos ou biológicos da pessoa com quem estão casados ou com quem vivem em união de facto. A sua crítica essencial assenta no facto da concretização dessa eventualidade retirar às crianças o direito de poderem formar a sua identidade num quadro familiar biológico ou adotivo em que existam sólidos referentes masculinos e femininos, condições que, na sua opinião, se mostram indispensáveis ao desenvolvimento harmonioso da(s) sua(s) personalidade(s). Acrescenta, além disso, num lógico reforço da opinião atrás assumida, que ninguém tem o direito de adotar mas, pelo contrário, as crianças é que têm direito a uma família onde possam desenvolver harmoniosamente a sua personalidade[1]. Não sendo eu um homem nem da ciência, nem do direito, atrevo-me no entanto a manifestar desde já a minha divergência, designadamente ao ter presente o engenhoso sentido convocado por Marinho Pinto através de uma hábil enunciação argumentativa.
Principiando pela pretendida contenda dos direitos, importa acareá-los na sua substância e submetê-los ao clássico problema dos universais. Ordena a evidência que o direito dos adotantes não precede o direito da criança e prescreve o bom senso que tão pouco pode aquele, em momento algum, significar uma qualquer prerrogativa ao sabor de súbitas e infundadas vontades ou de vulgares aferros caprichosos. O direito de adotar consubstancia-se, como é óbvio, em valores de humanidade e de probidade e, nessa medida, o seu juízo exige a observância rigorosa daqueles, tendo em vista o exercício cabal de uma responsabilidade que se nutre na obrigação de facultar à criança uma família que ela não tem, de modo a proporcionar-lhe um desenvolvimento tão completo e integral quanto possível. O direito da criança a uma família garante-se assim no exigente exercício dessa responsabilidade, convertida num dever, que a todos compromete no total respeito pelas premissas atrás enunciadas. Nesta perspetiva, o direito de adotar não é, do meu ponto de vista, mais do que o assentimento socialmente legitimado para que, com liberdade, afeto e saber, alguém possa cumprir esse dever universal e imperativo de responsabilidade parental.
Se esta controvérsia sobre os direitos me parece de colocação entendível e provavelmente aceitável, a problemática da existência de sólidos referentes masculinos e femininos, na sua relação com a configuração familiar concreta, apresenta já dificuldades maiores, múltiplas e de natureza bem diversa, se levarmos em linha de conta o quadro determinado pelas atuais e intensas mudanças nos planos dos valores, dos comportamentos e das identidades. Se se atender tão só às modificações contemporâneas nas condições de procriação, nas mudanças das formas de filiação e de criação dos filhos, percebe-se que estas transformações – inscrevendo-se em outras mais estruturantes de natureza social, política e económica – têm naturalmente conduzido a reposicionamentos sociais e a redefinição de papéis com reflexos expressivos nas relações homem/mulher. O cenário social é cada vez mais diverso e compósito e a ordem dita tradicional sente-se seriamente ameaçada na vulnerabilidade dos seus costumes e na impermanência normativa da sua moral, designadamente na forma como se olha e vive hoje em dia a sexualidade, as suas relações e práticas.
Ora, estas mudanças carregam naturais consequências, geram itinerários distintos de subjectivação e desafiam aclimatações simbólicas certamente renovadas. Refira-se que alguns homens ajuizados da ciência médica e da psicanálise situam neste quadro crítico aquilo a que chamam de “crise da masculinidade”, entendida aqui como enfraquecimento do poder paterno, e acolhida enquanto reflexo de uma crise mais profunda, a crise da atribuição fálica como organizador social. Não ousando invadir matérias para as quais não estou nada preparado, julgo no entanto não ser imprudente sugestionar que estas pressupostas ocorrências nos lançam e convocam para o mundo evolutivo do simbólico, da sua linguagem e e das suas representações. A imutabilidade de uma qualquer ordem simbólica subentenderia, no plano lógico, uma forma exclusiva e ideada de subjetivação com o poder de decidir sobre o normal e o patológico. Nesta linha de pensamento, ao tomarmos a família tradicional como referência única de normalidade, um qualquer outro modo de filiação introduziria então transtornos aos adotados que a realidade já estudada no domínio da homopaternidade vai (com clareza) desdizendo. E, parafraseando Ceccarelli, eu lembraria a Marinho Pinto que as famílias são sempre construídas, os filhos sempre adotivos e que desgraçadamente as prisões (de capturas diferentes) estão apinhadas de filhos criados por casais heterossexuais.
[1] http://www.dnoticias.pt/actualidade/pais/387054-marinho-pinto-diz-que-co-adopcao-desrespeita-e-maltrata-as-criancas
Imagem retirada DAQUI
sábado, maio 18, 2013
A CANALHA PRECISA DE UM OUTRO DEUS, DE UMA NOVA PÁTRIA E DE UMA DIFERENTE AUTORIDADE

Imagem retirada DAQUI
quinta-feira, maio 16, 2013
O PROVIDENCIALISMO CAVAQUISTA

No tempo atual, pese embora o pregão capitalista da ideologia do progresso e da riqueza, sobram-nos em demasia fenómenos de profunda exclusão aos quais acrescem e se generalizam iníquas precariedades e clamorosas vulnerabilidades. O providencialismo tosco de Cavaco, ao furtar-se agilmente da natureza política dos fenómenos, através da manobra religiosa, apela (de um modo acobertado) à pequenez da face negativa da tolerância e da conformação. Oportuniza, quiçá, o individualismo atraindo o encolhimento da desventura às rotinas dos seus quotidianos de miséria e desespero, libertando-a da obrigação à itinerância da solidariedade que forja a consciência social e partilhada dos seus verdadeiros problemas e desafios. A pobreza, o desemprego e outras formas de exclusão não são da responsabilidade dos pobres, dos desempregados e dos excluídos. Como todos compreendemos, dependem da forma como organizamos as sociedades e as pomos a funcionar. Cavaco sabe bem disso e melhor percebe que o poder de tolerar não é ad eternum uma prerrogativa dos poderosos. Escorado na forja coletiva do humanismo social, o exercício da solidariedade aponta-nos os limites da tolerância e esclarece-nos os seus fundamentos. Todos os dias, mesmo que esse dia seja o 13 de maio e, por que não, o 25 de abril.
Imagem retirada DAQUI
domingo, maio 12, 2013
O OUTRO, NÃO É APENAS UM NÚMERO. É UM OUTRO EU.

Entretanto, e circunstancialmente, ao vagabundear pelos blogues que no meu se movimentam, o Vias de Facto atraiu a minha curiosidade com uma postagem titulada Os mercados financeiros são os novos deuses. Nele se escreve que na passada sexta-feira teve lugar o ritual de sacrifício, de modo a que os deuses, satisfeitos pela subjugação demonstrada, fossem hoje condescendentes. A prática do ritual confina-se, como se pode certificar[2], a Passos Coelho e à sua oferta sacrificial de cortes aos deuses do dinheiro e à orgânica satisfação destes, naturalmente prenha de generosa benignidade ante a obediência comprovada. A emissão de dívida pública a 10 anos, diz-se, virou brilharete nesta circunstância perante a axiomática e supina procura com a taxa de juro a rimar.
Se Costa-Gavras nos alerta para a monocracia do dinheiro, o Vias de Facto testemunha a sua tirania neste terreno pátrio, porventura mais ameaçado que outros, tendo presente a acutilante acusação[3] de Miguel Real, no seu livro Nova Teoria do Mal. Não sendo o mal necessariamente português, Miguel Real traz à colação as chagas morais que definem […] o consulado da geração política que se apossou de Portugal desde finais da década de 80, apresentando três dos preceitos nacionais que agravam a nossa sombria tragédia. São eles, como a vida nos confirma, as comezinhas úlceras do oportunismo de quem tem unhas, toca guitarra, do espertismo de quem tem olho em terra de cegos se julga rei e do indiferentismo de quem vier a seguir, que feche a porta. Diga-se, em abono da verdade, que o progressivo envilecimento político radica, também e de um modo tristemente percetível, na estimada admissibilidade do supracitado preceituário, igualmente tóxico, no ambiente cultural mais geral, com reflexos inexpiáveis na aprimorada harmonia da sua acomodação às fidalguias dos apodrecidos ambientes ideológicos e políticos hoje dominantes.
Neste tempo de apuros, dito de inevitabilidade, em que as raposas do dinheiro vagueiam livre e insolentemente pelas democracias convertidas em galinheiros, a animalidade entontecida pela sua mesquinha mas presunçosa superioridade faz soçobrar, sem qualquer contrição, o humanismo da alteridade proposto por Corine Pelluchon[4]. Afeta os outros sem que, em momento algum, se perturbe e se deixe pelos outros afetar. No âmago da sua perversidade, não é apenas o reino corrompido da liberdade que renega as fronteiras da responsabilidade humana e social mas a pura devassidão de uma aética surda às invocações (ou mesmo insensíveis aos sinais) pungentes de dor e de sofrimento atualmente bem vivas na sociedade portuguesa. É mais do que tempo de nos indignarmos, sem medos, dessa crueldade de que todos nós acabamos por ser responsáveis, designadamente pela estranha renúncia do nosso dever de insurgência perante esse poder do dinheiro, ilegítimo, arrogante e perigosamente expansivo. Não basta arengar cidadania. Importa sim, fazermo-nos humanos enxergando e escutando o mundo com humanidade e (re)agir em concordância. Enquanto é tempo…
[1] Edição Lisboa de 06.05.2013
[2]Postagem retirada do blogue Vias de Facto
[3] Texto introdutório (pág.22).
[4] Noção proposta por Corine Pelluchon e citada por Adalberto Dias de Carvalho em Antropologia da Exclusão ou Exílio da Condição Humana.